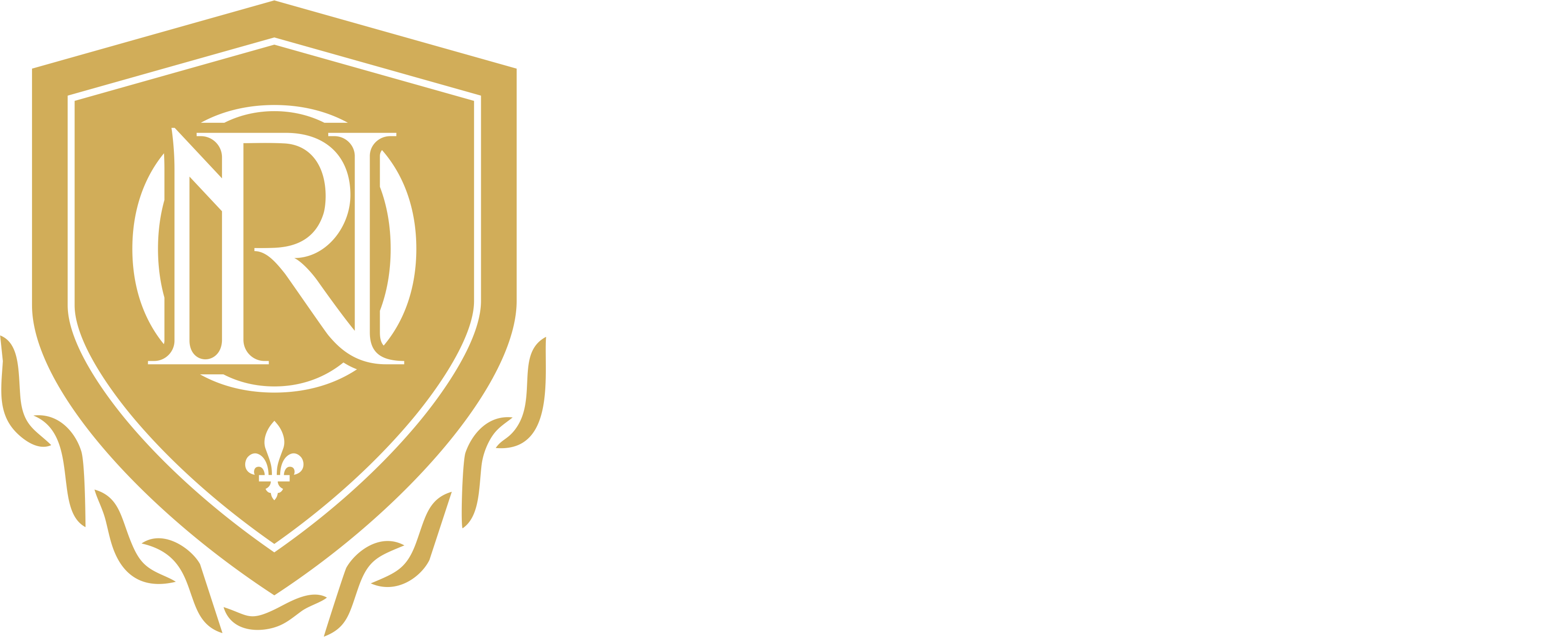A violência contra a mulher no Brasil emerge como uma faceta alarmante do fenômeno criminal, marcada por índices persistentemente elevados e por uma reprodução estrutural de profundas desigualdades de gênero. Os dados mais recentes, divulgados pelo Mapa da Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP, 2025), são reveladores e preocupantes, apontando um crescimento expressivo dos registros de violência doméstica e feminicídios, especialmente contra mulheres negras e periféricas. Essa realidade não apenas evidencia a falência de alguns instrumentos de proteção existentes, mas, sobretudo, sublinha a necessidade premente de uma atuação jurídica qualificada, crítica e sensível às complexas dinâmicas de gênero.
Para a advocacia criminal, o enfrentamento dessa realidade demanda, portanto, muito mais do que a simples técnica processual tradicional. Exige-se uma atuação profissional profundamente comprometida com os direitos fundamentais, capaz de reconhecer, por um lado, as particularidades da condição da mulher enquanto sujeito de direitos historicamente vulnerabilizado e, por outro, assegurar que os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório sejam rigorosamente preservados, inclusive no delicado contexto das ações penais que envolvem violência de gênero.
É nesse cenário de interseção entre a dogmática penal e as demandas sociais urgentes que o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, editado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2021), surge como uma ferramenta indispensável. Este documento, fundamental para magistradas e magistrados, revela-se igualmente crucial para a advocacia criminal. O Protocolo, em sua essência, reconhece que o direito, ao longo da história, foi, lamentavelmente, um instrumento reprodutor de desigualdades. Consequentemente, incumbe aos operadores e operadoras do sistema de justiça a tarefa ética e profissional de desconstruir estereótipos, corrigir vieses e promover uma atuação capaz de efetivar o princípio da igualdade substancial.
Na prática diária, a defesa criminal qualificada, ao atuar em processos de violência contra a mulher, deve estar permanentemente atenta para que os direitos fundamentais de ambas as partes — vítimas e acusados — sejam observados sob uma perspectiva que, simultaneamente, combata os estigmas de gênero e mantenha a irrestrita observância da legalidade penal e processual. Assim, é imperativo que se valorize adequadamente a palavra da vítima, nos termos do próprio Protocolo e da jurisprudência consolidada no tema, desde que essa valoração se dê em conformidade com os princípios da legalidade e da presunção de inocência.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de recentes e emblemáticas decisões, tem reafirmado, com veemência, que a proteção contra a violência de gênero é um dever indeclinável do Estado. A efetividade da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) emerge, neste contexto, como um vetor interpretativo obrigatório, inclusive para as práticas processuais penais. Essa diretriz vincula não apenas o Poder Judiciário, mas também, de forma direta, as estratégias de atuação da defesa técnica, que precisa se posicionar criticamente contra quaisquer práticas que possam, sob o pretexto de uma suposta neutralidade, perpetuar desigualdades estruturais.
O próprio Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ orienta que julgadores e julgadoras devem, desde a fase de formação da convicção até a complexa etapa da dosimetria da pena, analisar os fatos sob o prisma das assimetrias de poder, dos impactos diferenciados da violência sobre as mulheres e dos contextos interseccionais de vulnerabilidade — como raça, classe social, orientação sexual e idade. Portanto, o olhar da advocacia criminal, em sua essência, não pode e não deve se esquivar desse compromisso ético, jurídico e social.
Nesse contexto, a atuação defensiva não se resume a uma resistência meramente formal contra o jus puniendi estatal. Ao contrário, ela se reconstrói e se ressignifica como um exercício crítico e construtivo, capaz de assegurar que a responsabilização penal — quando e se cabível — se dê de forma estritamente constitucional, proporcional e, sobretudo, livre de estigmatizações indevidas decorrentes de estereótipos de gênero, tanto em desfavor da mulher vítima, quanto do acusado.
Dessa forma, é um dever inalienável da advocacia criminal contemporânea incorporar, de forma qualificada e proativa, os parâmetros do julgamento com perspectiva de gênero como parte indissociável e essencial do direito de defesa. Isso se traduz em uma atuação profissional que combine técnica apurada, sensibilidade humana e rigor ético, combatendo tanto as práticas misóginas que, por vezes, perpetuam a impunidade, quanto os eventuais excessos punitivistas que podem instrumentalizar processos penais de forma distorcida e seletiva.
Por fim, a superação da violência de gênero não é uma tarefa exclusiva do aparato estatal, tampouco pode ser dissociada da garantia irrestrita dos direitos fundamentais no processo penal. A advocacia criminal, ao reconhecer e abraçar esse desafio, firma seu compromisso com uma atuação verdadeiramente transformadora, que reafirma o devido processo legal não como um obstáculo burocrático, mas como um instrumento essencial e dinâmico à concretização da dignidade humana em sua expressão mais ampla, plural e interseccional.
Violência Contra a Mulher no Brasil: Desafios Jurídicos e a Resposta do Sistema de Justiça
A violência de gênero persiste como um dos mais graves e desafiadores problemas enfrentados pela sociedade contemporânea. No Brasil, apesar dos avanços legislativos e institucionais, os dados recentes revelam que os índices de violência contra a mulher continuam alarmantes, exigindo uma atuação firme, coordenada e tecnicamente qualificada por parte do sistema de justiça e dos operadores jurídicos.
Dados que Retratam uma Realidade Preocupante
O Mapa da Segurança Pública de 2025, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, evidencia que, em pleno século XXI, milhares de mulheres continuam sendo vítimas de homicídios, feminicídios e violência sexual. Os números são contundentes e revelam a magnitude do problema:
- Em 2024, foram registrados 2.422 homicídios de mulheres, o que representa, em média, 7 mulheres assassinadas por dia no país.
- No mesmo período, ocorreram 1.459 feminicídios, ou seja, aproximadamente 4 mulheres foram mortas diariamente pelo simples fato de serem mulheres.
- Os casos de estupro de mulheres totalizaram 71.834 vítimas, uma taxa de 66 vítimas por 100 mil mulheres, refletindo, ainda, um aumento de 0,10% em relação ao ano anterior.
Apesar de algumas reduções pontuais em certos índices, a magnitude desses números reforça, de maneira inequívoca, que as violências baseadas em gênero estão profundamente enraizadas em estruturas culturais, históricas e institucionais.
A Inconstitucionalidade da Tese da Legítima Defesa da Honra: Um Marco Civilizatório
Em uma decisão paradigmática e de profundo impacto civilizatório, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da ADPF 779, declarou, de forma unânime, a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra. Esse entendimento, que, lamentavelmente, ainda era invocado em julgamentos de crimes contra mulheres, sobretudo nos tribunais do júri, foi formalmente afastado do ordenamento jurídico.
O STF reconheceu, de forma inequívoca, que tal argumento viola frontalmente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. A decisão não apenas reafirma a centralidade da proteção da vida das mulheres, mas também rompe, no âmbito jurídico, com resquícios anacrônicos de um patriarcado que, historicamente, legitimou e naturalizou a violência como um instrumento de controle dos corpos e das escolhas femininas.
A Qualificadora do Feminicídio: Avanços e Desafios na Prática Penal
A inclusão do feminicídio como qualificadora do homicídio pela Lei nº 13.104/2015 representou um avanço legislativo significativo, conferindo maior visibilidade e uma gravidade penal acentuada aos crimes de ódio motivados pelo gênero.
Contudo, conforme revelam os dados do relatório “Impactos da Qualificadora do Feminicídio no Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”, sua efetividade plena ainda enfrenta entraves concretos:
- Dificuldades na correta tipificação dos casos como feminicídio, especialmente em contextos onde não há relacionamento afetivo direto entre vítima e agressor, mas existe uma evidente motivação.
- Subnotificação, fragilidade na coleta de elementos probatórios e inconsistências nas investigações.
- A manutenção de estereótipos de gênero durante a instrução processual, que, lamentavelmente, ainda se fazem presentes nas práticas policiais, periciais e judiciais.
Políticas Públicas e Iniciativas Estruturantes: Caminhos para a Superação
Diante desse cenário complexo, o fortalecimento das políticas públicas é absolutamente essencial para a superação da violência de gênero. O Governo Federal, por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), tem implementado programas estruturantes que visam aprimorar a resposta estatal:
- Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FONAR): uma ferramenta crucial inserida no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), com o objetivo de subsidiar decisões sobre medidas protetivas, baseando-se em uma avaliação concreta e individualizada do risco à vida da mulher.
- Programa Nacional das Salas Lilás e a padronização nacional das Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), visando um acolhimento e atendimento especializado.
- Criação de um Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, estabelecendo diretrizes técnicas para garantir a qualidade da prova e a correta qualificação jurídica dos delitos.
Além disso, como medida de fomento e garantia de continuidade das ações, 10% dos repasses obrigatórios do Fundo Nacional de Segurança Pública foram vinculados ao enfrentamento da violência contra a mulher, assegurando um financiamento direto e contínuo às ações de prevenção, acolhimento e repressão.
O Papel da Advocacia Criminal na Defesa dos Direitos Fundamentais
O enfrentamento da violência contra a mulher não é meramente uma agenda do Estado; configura-se como uma demanda ética, social e constitucional. A advocacia criminal — enquanto instrumento essencial de defesa dos direitos e garantias fundamentais — possui um papel decisivo e irrenunciável nesse contexto.
Por um lado, cabe-lhe atuar com o máximo rigor técnico na defesa dos acusados, zelando pela observância estrita do devido processo legal e da presunção de inocência, princípios que são caros a um Estado Democrático de Direito. Por outro lado, é imperativo que a advocacia reconheça e repudie práticas abusivas, como o resgate de teses anacrônicas (a exemplo da legítima defesa da honra, já declarada inconstitucional pelo STF), pois estas não se compatibilizam com o compromisso inerente da advocacia com a Constituição e com os direitos humanos.
O fortalecimento da atuação técnica, ética e combativa da advocacia criminal é, portanto, não apenas um dever profissional, mas também uma contribuição essencial para a consolidação de um sistema de justiça mais justo, que respeite, promova e proteja a vida e a dignidade das mulheres. Isso se traduz em uma defesa que, ao mesmo tempo que atua com a técnica mais apurada, mantém a sensibilidade e o rigor necessários para combater tanto as práticas misóginas que perpetuam a impunidade quanto os eventuais excessos punitivistas que podem instrumentalizar processos penais de forma distorcida e seletiva.
A superação da violência de gênero, em sua totalidade, não é uma tarefa exclusiva do aparato estatal, tampouco pode ser dissociada da garantia irrestrita dos direitos fundamentais no processo penal. A advocacia criminal, ao reconhecer e abraçar esse complexo desafio, reafirma seu compromisso com uma atuação verdadeiramente transformadora, que visualiza o devido processo legal não como um obstáculo, mas sim como um instrumento fundamental e dinâmico à concretização da dignidade humana em sua expressão mais ampla e interseccional.
Gostou deste conteúdo? Compartilhe-o com outros profissionais do Direito e empresários para fortalecer o debate sobre a segurança jurídica no Brasil!