
O avanço exponencial das tecnologias de comunicação e a consolidação de uma economia intrinsecamente globalizada têm remodelado de forma irreversível o cenário da criminalidade contemporânea. Hoje, delitos complexos como a lavagem de capitais, o tráfico internacional de drogas, as fraudes financeiras de grande escala, a corrupção transnacional e os crimes cibernéticos são, com frequência cada vez maior, perpetrados por meio de estruturas criminosas sofisticadas e organizações de alcance global. Essas redes se valem da internet, de plataformas criptografadas e de fluxos financeiros digitais para, em última análise, evadir-se da jurisdição territorial tradicional dos Estados.
Esse novo e desafiador paradigma criminal não apenas confronta os órgãos de persecução penal, mas, sobretudo, questiona a própria lógica dos sistemas processuais nacionais. Afinal, estes foram historicamente estruturados sobre os pilares da soberania estatal e da jurisdição territorial. Diante da fluidez dos dados e da transnacionalização dos elementos probatórios — muitos dos quais, aliás, sequer existem em meio físico, estando armazenados em nuvens ou servidores localizados em diferentes países —, o acesso a provas digitais, no exterior, tornou-se uma demanda imperativa para a efetividade da persecução penal no século XXI.
Nesse contexto, porém, esta nova realidade processual suscita questões jurídicas de altíssima complexidade: quais são os efetivos limites da validade das provas digitais obtidas no exterior? A licitude da prova deve ser aferida exclusivamente pela legislação brasileira ou pela do país de origem? E, ainda mais delicado, é admissível utilizar no Brasil dados obtidos sem prévia decisão judicial em outro país?
Foi precisamente nesse cenário de incertezas e desafios que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) se debruçou, em recente julgamento, sobre uma questão de repercussão prática e teórica extremamente relevante. O caso analisado, destacado no Informativo nº 854 da Corte, discutia a validade, no processo penal brasileiro, de dados extraídos do aplicativo de comunicação criptografada SKY ECC. Tal plataforma, como é notório, tem sido amplamente utilizada por redes internacionais de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
Os dados em questão foram compartilhados com as autoridades brasileiras a partir de um procedimento formal de cooperação jurídica internacional , tendo sido originalmente obtidos pela Justiça francesa, no âmbito de investigações conduzidas naquele país. A tese defensiva, nesse cenário, sustentava a ilicitude dos dados no Brasil, sob o argumento de que não teria sido comprovada, no país de origem, a existência de prévia autorização judicial específica para sua obtenção. No entender da defesa, isso configura violação às garantias processuais previstas no ordenamento jurídico brasileiro.
Essa alegação, todavia, foi categoricamente afastada pela Sexta Turma do STJ. A Corte firmou um entendimento alinhado tanto com os princípios do Direito Internacional Público, quanto com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Segundo o Tribunal, quando se trata de provas obtidas no âmbito da cooperação jurídica internacional, a aferição da licitude da prova deve ser realizada à luz da legislação vigente no país onde ela foi produzida. Em outras palavras, a competência para definir se houve ou não respeito às exigências processuais locais incumbe às autoridades francesas — e não à Justiça brasileira.
Esse raciocínio encontra respaldo direto e inequívoco no artigo 13 da LINDB. Tal dispositivo estabelece, com clareza, que a produção de prova sobre fatos ocorridos no exterior se rege pela lei do local onde ocorreram tais fatos. Esse preceito, por sua vez, reflete um princípio consolidado no direito internacional, segundo o qual cada Estado exerce soberania plena sobre os atos processuais realizados em seu território. Consequentemente, nenhum outro Estado pode interferir ou impor suas regras procedimentais à jurisdição estrangeira.
Ademais, essa orientação do STJ dialoga diretamente com os termos do Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal celebrado entre Brasil e França, promulgado pelo Decreto nº 3.324/1999. O tratado, em sua essência, estabelece que as partes se comprometem a prestar mútua assistência na obtenção e no intercâmbio de informações e provas, desde que os atos sejam praticados de acordo com a legislação do Estado requerido. No caso concreto, o Estado requerido foi a França.
Portanto, o STJ reafirmou que, uma vez que os dados foram compartilhados por meio dos canais formais de cooperação internacional , a análise sobre sua validade processual deve observar exclusivamente os parâmetros da lei francesa. O Judiciário brasileiro não detém competência para questionar os procedimentos adotados no estrangeiro , salvo se o conteúdo da prova ou sua forma de obtenção for flagrantemente incompatível com a ordem pública nacional, a soberania ou os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Brasileira.
Essa decisão possui enorme repercussão prática, especialmente no campo da persecução penal dos crimes econômicos e organizados. Isso porque consolida um entendimento que confere segurança jurídica à atuação conjunta entre autoridades de diferentes países no combate a delitos transnacionais. Concomitantemente, reforça um alerta essencial: a defesa técnica precisa estar cada vez mais preparada para atuar no controle de legalidade dos atos internacionais, na análise da cadeia de custódia digital transnacional e na fiscalização dos limites impostos pela ordem pública brasileira.
O Julgado que Redefine os Paradigmas da Prova Digital na Cooperação Internacional
O recente julgamento proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) representa um verdadeiro divisor de águas na compreensão dos limites e da validade das provas digitais produzidas no âmbito da cooperação jurídica internacional. Na essência do caso concreto, discutia-se a validade, no processo penal brasileiro, de dados extraídos do aplicativo criptografado SKY ECC. Tais dados foram utilizados para desmantelar complexas redes de tráfico internacional de drogas e lavagem de capitais. A tese defensiva, contudo, argumentava que as provas seriam ilícitas, uma vez que, segundo sua interpretação, não teria sido comprovada a prévia autorização judicial no país de origem – no caso, a França.
A defesa, em sua argumentação, sustentava que, na ausência de uma decisão judicial explícita autorizando a extração dos dados, esses elementos deveriam ser considerados ilícitos. Isso se daria à luz dos parâmetros do devido processo legal brasileiro, o qual impõe, como regra, a necessidade de controle jurisdicional prévio para medidas restritivas de direitos, mormente quando envolvem acesso a dados privados e comunicações pessoais. Tratava-se, pois, de uma tentativa de aplicação extraterritorial dos princípios e garantias processuais penais do Brasil sobre atos que foram integralmente praticados no exterior.
Contudo, ao enfrentar essa tese, a Sexta Turma do STJ firmou um posicionamento absolutamente alinhado aos princípios clássicos do direito internacional e às normas de direito interno que disciplinam a cooperação jurídica internacional. O tribunal reafirmou, de forma contundente, que, no contexto da colaboração entre Estados soberanos, a aferição da licitude, validade e regularidade das provas produzidas em território estrangeiro deve ser realizada exclusivamente segundo os critérios e procedimentos da legislação do próprio Estado onde ocorreu a coleta.
Esse entendimento não surge isoladamente, mas encontra amparo normativo explícito e fundamental no artigo 13 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que dispõe de maneira expressa:
“A prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele
vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se.”
Portanto, na lógica adotada pelo STJ, desde que a extração dos dados — ou qualquer outro meio de obtenção de prova — tenha ocorrido em consonância com os requisitos da legislação francesa , e desde que essa prova tenha sido formalmente transmitida às autoridades brasileiras por meio dos instrumentos adequados de cooperação jurídica internacional, como prevê o Decreto nº 3.324/1999 (Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e França) , não cabe ao Poder Judiciário brasileiro revisitar, controlar ou validar os critérios processuais adotados no país de origem.
A decisão da Corte, por conseguinte, ressalta a centralidade do princípio da soberania dos Estados na arquitetura da cooperação internacional em matéria penal. Cada Estado possui plena autonomia para definir, segundo seu ordenamento jurídico interno, os requisitos e os procedimentos necessários à produção de provas dentro de seu território. Ao outro Estado, que recebe os elementos probatórios no contexto da cooperação, incumbe apenas verificar se a transmissão ocorreu de forma regular, através dos canais oficiais e respeitando os acordos bilaterais ou multilaterais existentes. Adicionalmente, deve-se verificar se o conteúdo da prova não viola a ordem pública, os direitos fundamentais ou a soberania nacional brasileira.
Essa diretriz se ancora não apenas no direito interno brasileiro, mas também nos princípios estruturantes do direito internacional público, notadamente na cláusula de respeito mútuo à soberania que informa todos os tratados e acordos de assistência mútua em matéria penal.
O próprio artigo 17 da LINDB complementa essa lógica ao prever que atos estrangeiros não produzirão efeitos no Brasil apenas se forem manifestamente contrários à ordem pública nacional — o que, evidentemente, não se confunde com uma mera divergência procedimental ou com a ausência de formalidades típicas do sistema jurídico brasileiro.
Ao afastar a tese defensiva, o STJ deixa claro que não cabe ao Judiciário brasileiro exigir que autoridades estrangeiras ajam segundo os ritos, garantias ou pressupostos próprios do processo penal brasileiro. A tentativa de impor critérios internos sobre atos praticados no exterior não apenas violaria a soberania do Estado estrangeiro, mas também comprometeria, de forma significativa, a eficácia dos instrumentos de cooperação internacional, os quais são fundamentais no combate à criminalidade transnacional.
Esse entendimento possui, portanto, dupla função: de um lado, assegura a eficácia da persecução penal no combate aos crimes de natureza transnacional, permitindo que provas obtidas legitimamente no exterior sejam plenamente utilizadas no processo penal brasileiro. De outro, reforça a necessidade de que esse uso seja sempre condicionado ao respeito à ordem pública brasileira, aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais, que funcionam como cláusulas de salvaguarda e controle, evitando que práticas incompatíveis com o Estado de Direito nacional sejam incorporadas automaticamente.
A decisão, portanto, não significa um cheque em branco para a utilização irrestrita de qualquer prova vinda do exterior. Ao contrário, reafirma a importância dos filtros normativos próprios do direito brasileiro — como a proteção à intimidade, à privacidade, à ampla defesa e ao contraditório —, mas delimita, com precisão, que o parâmetro de validade formal da prova é o ordenamento do país de origem, não o brasileiro.
Fundamentação Legal da Utilização de Provas Digitais na Cooperação Internacional: Limites, Parâmetros e Salvaguardas no Ordenamento Brasileiro
A crescente demanda por cooperação internacional na persecução penal de delitos transnacionais, impõe a necessidade de uma análise rigorosa dos fundamentos normativos que regem a utilização de provas obtidas no exterior, especialmente aquelas de natureza digital. A decisão recentemente proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao enfrentar a controvérsia sobre a validade de dados extraídos do aplicativo criptografado SKY ECC, encontra respaldo sólido em três pilares normativos essenciais do ordenamento jurídico brasileiro: os artigos 13 e 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) e o Decreto nº 3.324/1999, que promulga o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e França.
Artigo 13 da LINDB: O Princípio da Lex Loci na Produção da Prova
O artigo 13 da LINDB consagra, no ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da lex loci regit actum, segundo o qual a validade formal dos atos jurídicos — incluindo os atos de produção probatória — deve ser aferida segundo a legislação do país onde foram realizados. Aplicado ao contexto da cooperação internacional, esse dispositivo estabelece, e forma inequívoca, que “a prova dos fatos ocorridos em país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar, quanto ao ônus e aos meios de produzir-se”.
Isso implica que não compete ao Judiciário brasileiro exigir que uma prova digital obtida na França, nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, observe os
requisitos procedimentais previstos na legislação processual penal brasileira, como a exigência de autorização judicial para determinadas medidas restritivas de direitos.
Contanto que a coleta tenha sido realizada de acordo com as normas processuais e materiais do país de origem, e tenha sido formalmente transmitida por meio dos canais de cooperação internacional, sua validade formal é reconhecida no Brasil.
Todavia, essa regra não opera de forma absoluta. O próprio artigo 13 da LINDB estabelece cláusulas de salvaguarda, determinando que não serão admitidas provas que contrariem a ordem pública, a soberania nacional ou os bons costumes. Tais expressões funcionam, na prática, como cláusulas abertas de controle, permitindo que o Estado brasileiro impeça a eficácia de atos processuais estrangeiros quando estes colidirem, frontalmente, com os princípios fundamentais da Constituição brasileira, como a dignidade da pessoa humana, o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
Artigo 17 da LINDB: A Ordem Pública Como Limite Material
Complementarmente, o artigo 17 da LINDB reforça essa lógica ao dispor que atos e sentenças estrangeiras não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a ordem pública, a soberania nacional ou os bons costumes. Assim, embora o Brasil reconheça e valorize a soberania dos atos processuais estrangeiros, essa deferência não é irrestrita. Opera, portanto, como um sistema de duplo controle: de um lado, há respeito à legislação do país de origem da prova; de outro, há o dever de assegurar que essa prova não seja incompatível com os parâmetros constitucionais e com os princípios fundamentais do ordenamento brasileiro.
Essa cláusula de ordem pública possui conteúdo jurídico dinâmico e deve ser interpretada em estrita consonância com os princípios constitucionais, os tratados internacionais de direitos humanos e as garantias processuais asseguradas no Brasil. A título de exemplo, provas obtidas mediante tortura, interceptações não autorizadas que violem direitos fundamentais de forma absoluta, ou mediante práticas que atentem flagrantemente contra a dignidade humana, seriam, inequivocamente, vedadas.
Decreto nº 3.324/1999: A Cooperação Judicial Formalizada como Requisito Estrutural
O terceiro pilar normativo é o Decreto nº 3.324/1999 , que promulga o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e França. Este instrumento bilateral estabelece os procedimentos para solicitação, transmissão e utilização de provas no âmbito da cooperação penal entre os dois países.
Esse tratado internacional, com força normativa no Brasil, disciplina que as partes se comprometem a prestar assistência mútua na obtenção e transmissão de elementos de prova, desde que os atos sejam praticados segundo a legislação do Estado requerido. Além disso, o acordo define os formatos de solicitação (cartas rogatórias, auxílio direto, comissões rogatórias) e os limites dentro dos quais as autoridades podem atuar, tanto na coleta quanto no compartilhamento de dados.
O respeito às formalidades previstas no tratado é essencial para assegurar a legitimidade da prova perante o ordenamento brasileiro. Isso significa que não se admite o acesso informal ou extrajudicial a dados ou elementos de prova situados no exterior, sob pena de violação à soberania alheia e, consequentemente, de ilicitude da prova
Provas Digitais na Era Global: Onde Estão os Limites?
A crescente utilização de provas digitais obtidas no exterior no âmbito do processo penal brasileiro, especialmente em investigações de criminalidade transnacional, impõe uma série de cautelas jurídicas e técnicas que não podem ser negligenciadas pelos operadores do direito, em especial pela advocacia criminal. A busca pela efetividade na persecução penal não pode se sobrepor às garantias fundamentais que estruturam o devido processo legal, razão pela qual a incorporação desses elementos probatórios no processo brasileiro deve observar critérios rigorosos, tanto de ordem formal quanto material.
O primeiro aspecto essencial diz respeito à formalização rigorosa da cooperação internacional. Não há espaço, no regime jurídico brasileiro, para a admissão de provas obtidas por vias informais, clandestinas ou à margem dos instrumentos de cooperação jurídica internacional. A validade da prova depende, inexoravelmente, de sua obtenção e transmissão por meio dos canais oficiais, previstos em tratados bilaterais — como o Acordo de Cooperação Judiciária em Matéria Penal entre Brasil e França —, em convenções multilaterais ou mediante cartas rogatórias. Qualquer tentativa de acessar dados armazenados no exterior sem o devido respaldo dos mecanismos formais de cooperação configura violação à soberania do Estado estrangeiro e, consequentemente, resulta na ilicitude da prova.
Superado o requisito formal da cooperação, a análise se volta para a necessidade de preservação da cadeia de custódia digital. Este é um elemento indispensável para assegurar a integridade e a confiabilidade dos dados desde o momento de sua extração até sua efetiva utilização no processo penal brasileiro. No contexto das provas digitais, esse cuidado se torna ainda mais sensível, dado que a manipulação, a alteração ou a corrupção de arquivos eletrônicos pode ocorrer de forma imperceptível, comprometendo a autenticidade do conteúdo e gerando riscos irreparáveis à regularidade processual.
Igualmente imprescindível é a observância do acesso pleno e irrestrito da defesa aos elementos probatórios, em todas as suas dimensões. O princípio do contraditório, na perspectiva da paridade de armas, exige que a defesa tenha conhecimento integral não apenas do conteúdo da prova, mas também da sua origem, do contexto em que foi produzida e dos procedimentos técnicos adotados, inclusive no país de origem. A ausência de transparência quanto a esses aspectos configura grave violação ao devido processo legal, podendo comprometer a validade da prova e ensejar a sua exclusão do conjunto probatório.
Por fim, e não menos relevante, impõe-se a realização de um rigoroso controle de conformidade com a ordem pública brasileira. Embora o artigo 13 da LINDB determine que a validade formal da prova seja aferida à luz da legislação do país em que foi produzida, esse reconhecimento não é absoluto. É dever indeclinável do Poder Judiciário brasileiro — bem como da advocacia criminal — avaliar se a obtenção da prova, embora formalmente válida no país de origem, não viola princípios e garantias fundamentais consagrados pela Constituição brasileira, tais como a dignidade da pessoa humana, a proteção da intimidade, da vida privada, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Para os operadores do Direito, em especial para a advocacia criminal, é imprescindível acompanhar de perto essa evolução jurisprudencial. A atuação técnica exige domínio não apenas do direito penal e processual penal interno, mas também dos instrumentos de cooperação jurídica internacional, do direito internacional público, da proteção de dados e da cibersegurança.
A correta compreensão dos parâmetros que regem a produção e o uso de provas digitais no cenário global é fundamental para a construção de estratégias defensivas robustas, para a impugnação de elementos ilícitos, bem como para uma atuação ética e eficiente na persecução penal.
O entendimento firmado pelo STJ reflete um equilíbrio técnico-jurídico sofisticado: não cabe ao Judiciário brasileiro exigir que as provas digitais produzidas no exterior observem as regras de procedimento previstas no Código de Processual Penal brasileiro. A validade formal dessas provas decorre, precipuamente, de sua conformidade com o direito processual do país de origem.
Há, contudo, um limite claro e intransponível: a ordem pública brasileira. A prova só pode ser admitida no processo penal brasileiro se, além de produzida segundo os trâmites legais do país estrangeiro, não atentar contra princípios e garantias fundamentais tutelados pela Constituição Federal. Em síntese, o Brasil não é obrigado a aceitar como válida uma prova cuja obtenção, embora lícita no exterior, seria inaceitável sob a ótica de seu próprio Estado de Direito.
Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta e compartilha com quem precisa ler isto!
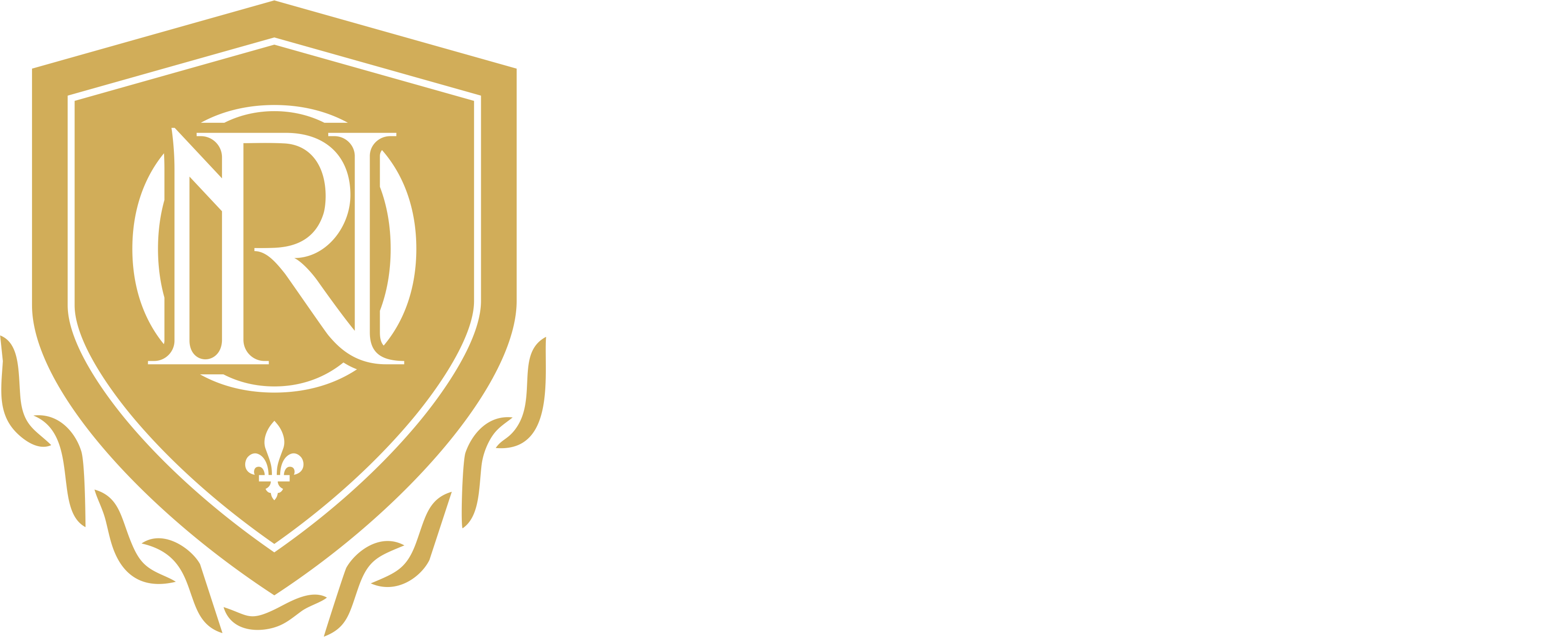

Ainda não há comentários, insira seu comentário abaixo!